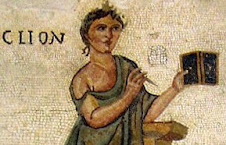Elie Wiesel - “Porque escrevo”
“Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro”
Talmude
“Nós, tocados pela sorte, tentamos narrar com maior ou menor
sabedoria não só nosso destino, mas também aquele dos outros ,
dos que submergiram, mas tem sido um discurso em ´nome de
terceiros , a narrativa de coisas vistas de perto, não experimentadas pessoalmente. A demolição levada a cabo, a obra consumada, ninguém a narrou, assim como ninguém jamais voltou para contar a sua morte” Primo Levi(1990, p.48)
Introdução
O filme A Lista de Schindler(EUA, 1993) dirigido pelo cineasta americano de origem judaica Steven Spielberg, caracteriza-se por uma tentativa de construção de uma obra audiovisual no âmbito da cultura de consumo norte-americana que representasse o testemunho e a memória dos sobreviventes do genocídio nazista. Até que o tema do genocídio dos judeus no século XX se tornasse efetivamente um produto cultural para consumo em massa, esse movimento iniciou-se na literatura, consagrando o que hoje chamamos Literatura de Testemunho e através do trabalho de alguns historiadores particularmente preocupados com uma crítica ao historicismo e a (re)valorização da questão da memória, sobretudo da intersecção entre memória individual e coletiva1.
Desta maneira, o testemunho ganha uma importância fundamental “tanto no seu sentido jurídico e de testemunho histórico” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p.08) e nos traz uma importante inflexão no que tange à relação entre a linguagem e o “real”; e a terrível literalidade de um universo cuja violência era humanamente inacreditável e indescritível. Como salientaram Adorno e Horkheimer desde a crítica à Indústria Cultural, durante a década de 40, o destino das artes e da cultura seria o de fundir-se ao da economia, passando a ser tratadas, a rigor, como qualquer outra mercadoria.
Paralelamente a produção do filme, Steven Spielberg tornou-se idealizador do projeto Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, um acervo de memórias, testemunhos e depoimentos coletados ao redor do mundo dos sobreviventes do holocausto que hoje estão sob guarda da University of Southern California. Desta maneira, após o lançamento de A Lista de Schindler, Steven Spielberg tornou-se uma espécie de embaixador e porta-voz dos testemunhos de sobreviventes. O trabalho de coleta de testemunhos, reunião de documentos e pesquisa que constituíram o fundo de documentos do acervo bem como de apoio à produção do filme, foi duramente criticada2 por diversos autores tão dispares como Theodor Adorno(1991; 1993), Roney Cytrynowicz (2000), Arturo Lozano Aguillar (2001), o próprio Claude Lanzmann (apud CANGI, Adrián. Imagens do Horror: paixões tristes, 1997.)cineasta judeu diretor do considerado melhor documentário sobre o genocídio nazista intitulado Shoah e o sobrevivente Primo Levi(2004).
No que se refere as ferramentas de linguagem cinematográfica utilizadas para reforçar o discurso ideológico do filme, desfere-se pesadas críticas quanto a intenção do filme de parecer o mais próximo da realidade que através de uma série de equívocos que evocam uma espécie de distorção da realidade. Por outro lado, como narrar as catástrofes históricas e os traumas da memória? Como confluir a experiencia traumática individual à memória construída pelas sociedades? Qual o discurso e postura que o filme assume com relação ao Holocausto e a sociedade americana ? Há na realidade uma Política da Memória ou uma Ética de representação ? Qual a relação entre História e Memória depois de Auschwitz-Birkenau, Plaszow, Treblinka, Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald e entre outros?
O desafio de indicar possíveis caminhos para a resposta dessas perguntas, é que será o objetivo deste presente trabalho, ou seja, tratam-se de problemáticas que evidentemente estão refletidas na monumentalização deste passado representado no filme e que irá trazer para nós a dimensão da árdua tarefa de se escrever História.
A Lista de Schindler e a Indústria do Holocausto: considerações gerais sobre o filme.
Adaptado para o roteiro de filme baseado em um romance com o mesmo título de Thomas Kneally, A Lista de Schindler consagrou-se com o prêmio de melhor filme do Oscar de 1993 narrando através das telas, a história do genocídio nazista contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Sob a direção de Steven Spielberg, autor de outros sucessos de ficção como ET, Tubarão, Jurassic Park entre outros, o drama de guerra propõem uma ousada tentativa de através de recursos da própria linguagem cinematográfica (enquadramentos, planos-sequência, posicionamentos de câmera) mostrar com o maior realidade possível o trauma do evento que caracterizou o Holocausto. As principais personagens que dão desenvolvimento ao drama são Oskar Schindler, empresário alemão membro do partido nazista que vê na alteração da economia de guerra uma possibilidade de grandes lucros; Amon Von Goeth, oficial da SS comandante do campo de extermínio e trabalhos forçados de Plaszow que levou a cabo a política de solução final da questão judaica (Endlösung der Judenfrage) eliminando os habitantes dos guetos de Cracóvia; Itzak Stern, prisioneiro judeu polonês que tinha larga experiência em contabilidade e fora recrutado por Schindler para administrar a sua Deutsche-EmailWarrenFabrik de produção de utensílios para fins militares; e os pouco mais de 1.000 Schindlerjüdens que foram salvos ao final do filme.
Steven Spielberg, diretor cinematográfico, de origem judaica, sempre esteve relacionado à um tipo de filme identificado como “comercial”, o que sem dúvida em A Lista de Schindler decidiu trilhar um caminho bem mais difícil e complexo, ao tentar fazer um filme, que estabelecesse um diálogo com a memória do Holocausto.
Quais são os elementos narrativos que o filme se serve para transmitir a mensagem dos horrores sofridos pelo povo judeu durante os anos do holocausto ? Em primeiro lugar devemos atentar-nos ao tom, com a forma com a qual cinematograficamente falando está realizada A Lista de Schindler. Assim, Spielberg decide por uma “estética documental” com o uso de uma câmera mais móvel que estática e uma filmagem em preto e branco que serve para enfatizar o tom dramático do discurso e denotá-lo com o cariz de “realidade”, de compromisso. Segundo Sánchez-Escalonilla3, Spieberg desejava dar ao filme a forma de uma espécie de realismo histórico. A eleição da coloração em preto e branco do filme, recorda o estilo dos documentários dos anos 40 sobre os campos de concentração, nota-se também o empenho por filmar em decorados reais, como o próprio apartamento de Oskar Schindler em Cracóvia; e o emprego da steadicam que dá as imagens um aspecto próprio das produções ao vivo.
Quanto à utilização das fontes audiovisuais (cinema, televisão e registros sonoros em geral) pelos historiadores e a sua elevação à condição de uma nova fonte primária, o historiador Marcos Napolitano explicita que, do ponto de vista metodológico, erroneamente elas foram consideradas como um testemunho quase direto e objetivo da história . Por outro lado, as vezes são estigmatizadas em torno da figura de que representam uma subjetividade absoluta, impressões estéticas de fatos sociais objetivos que lhes são exteriores. Assim, Napolitano propõe uma especial atenção ao trabalhar com fontes audiovisuais com relação à percepção e consideração das estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de representação da realidade. Portanto, a utilização desses materiais impõem os obstáculos de duas visões distintas, uma é a visão “objetivista” que decorre do “efeito de realidade” provocado pelas formas de registro técnico dessas fontes que induzem imediatamente ao observador à aderir o referente (a “realidade” fotografada) à representação (o registro fotográfico em si); a outra é a da visão “subjetivista” que causa uma “ilusão de subjetividade” onde tais fontes teriam um conjunto de significados quase relativos e insondáveis pelo historiador. Como observa Napolitano, “a força das imagens, mesmo quando puramente ficcionais, tem a capacidade de criar uma realidade em si mesma” e a “análise é pautada pelo grau de ‘realismo’ e ‘fidelidade’ do filme histórico, em relação aos eventos ‘realmente’ ocorridos” 4.
Assim, o mais importante na análise de um filme e utilização pelo historiador como fonte documental, é a verificação e entendimento do porquê das adaptações, omissões e falsificações que são apresentadas num filme. A tensão entre subjetividade e objetividade, impressão e testemunho, intervenção estética e registro documental são as marcas das fontes históricas audiovisuais.
Numa outra direção é a análise do historiador Marc Ferro, de que o documento fílmico possui um valor de “testemunho” indireto e involuntário de um evento ou processo histórico e a sua veracidade ou não, estaria diretamente ligada à manipulação intencional dos realizadores (edição, truncagem, censura).
A primeira polêmica que encontramos no filme ganhador de vários prêmios Oscar de Cinema é a relação do autor com o seu discurso: a ideologia. Todo filme, todo discurso audiovisual ou documento é determinado pela postura do autor que o realiza. Como salienta Adrián M. Huici, “toda linguagem ou comunicação implica de um modo ou de outro mobilizar a conduta do receptor... É evidente que não há uma intenção expressa do autor, determinados temas inevitavelmente trazem cargas ideológicas que buscam um certo tipo de adesão por parte dos receptadores”5
Servindo-se da veracidade que caracteriza um documentário para narrar uma barbárie que distancia-se do que pode ser considerada uma ficção inicialmente aos olhos do espectador. O diretor utiliza a técnica documental como estratégia de persuasão e de denúncia. O preto e branco como apoio para a transmissão de uma ideologia, a importância é dada não ao que se conta, mas na maneira como se conta.
Contrasta um pouco o filme na cena em que aparece uma menina vestida de vermelho, enfatizando algo que o autor quer que nós vejamos, como ela se destaca nos olhos de Schindler, como esta garota representa o holocausto sofrido por seus familiares, este contraste pode também representar a personificação da tragédia em uma menina.
No que se relaciona à evolução do filme, tudo vai se tornando aos poucos mais obscuro, mais angustioso e “real”. Em A Lista de Shindler, não existe um só momento em que o espectador sinta orgulho diante do que está vendo. Não há nenhuma elipse para evitar os momentos trágicos, não há um elemento cenográfico “casual” que nos impeça ver o que está ocorrendo.
A realidade transmitida é encenada de forma violenta e trágica, mesmo nos momentos de maior emotividade, sempre ocorre algum gesto que desesperança ainda mais o espectador, sempre quando aparece um momento de felicidade surge outro de tristeza6.No filme não há ganhadores e nem perdedores, a situação que a guerra impõe aos personagens não favorece a nenhum deles, todos perderam algo no final da contenda7. Todo o absurdo dos eventos representados em A Lista de Schindler dos anos da guerra, não é algo acordo, algo racional. Vemos também como os judeus matam outros judeus, como os alemães “não sabem” o empreendimento de que estavam dando cabo ou riem com prazer diante da barbárie. Portanto, a partir de uma certa altura do desenvolvimento do filme é que começamos a perceber a forte conotação moral e ideológica do filme em cenas como demonstra o general Ammon quando contesta à Helen Hirsch(governanta na sede do Lager): “A razão pelo qual te bato é porque você me perguntou por que te bato”.
A guerra é uma barbárie, como denúncia o próprio Schindler ao dizer que “A guerra sempre traz o pior dos homens”. Spielberg parece se intimidar em mostrar uma guerra que mata todos os tipos de pessoas de forma impune, inclusive à crianças. Matar crianças na frente dos espectadores seria algo demasiadamente arriscado e poderia provocar um sentimento de desencanto ou até mesmo repulsa ao filme, sendo assim, é que finalmente o diretor vai deixando revelar estar repleto de amenizações, eufemismos e instrumentos para a confirmação da tese do seu discurso, e em direção oposta a tentativa de retratar o evento histórico e a sua memória tal qual aconteceram. A partir deste ponto, o filme se rende a estrutura melodramática dos filmes de Hollywood numa grande empreitada de monumentalização do passado e americanização do Holocausto. Como lembra Antonio Sánchez-Escalonilla, Spielberg frequentemente recorre as crianças em uma espécie de papel decisivo, em uma espécie de “complexo de Peter Pan”, decisivos na trama, portadores da bondade, como o garoto que trabalha para os nazistas e salva a duas conhecidas, uma delas, ao agradecê-lo diz “Você já é um homem”, cuja mensagem aponta que as crianças terão que converter-se em adultos se quiserem sobreviver, e os adultos em crianças.
Na maioria dos filmes é mais comum matar os protagonistas do que matar os desconhecidos, quando no caso uma criança se torna uma protagonista o espectador sofre de uma forma brutal frente a tal carga de dramaticidade, mais horrível será matar crianças que nem sabemos quem são, nos lembrando mais uma vez da cena da garota de blusa vermelha.
Em geral, em A Lista de Schindler, vemos dor, sofrimento e nos compadecemos. Desejamos que tudo acabe de uma vez e que não haja mais mortes, que nunca mais ocorra algo semelhante, desta maneira, o diretor de ET vai configurando sua mensagem cena após cena, plano a plano, morte a morte. Neste filme, vemos somente os opressores e as vítimas, os que fazem sofrer e os que sofrem. A única postura que pode ser tomada pelo espectador é diante da morte e das injustiças causadas pela guerra, e é justamente esse posicionamento também um dos pecados do filme. O grupo que na ficção faz sofrer aos judeus é caracterizado somente por essa maldade, por essa loucura e por essa irracionalidade, será que essa posição poderia generalizar-se a todos os alemães no Hitlerzeit ? Os alemães são representados de forma completamente despossuída de qualquer tipo de humanidade, com a exceção de uma cena em que o alemão faz uma voz infantil perguntando a um bebê “Wie heißt du? / Como você se chama ?”, até os figurantes que encenam um soldado alemão fumando um cigarro é denotado com um ar de nazista louco, perverso e enfurecido.
Estavam todos os nazistas loucos? Amon é mostrado como um psicopata sanguinário e todos os outros kapos da SS imitam a sua postura de insanidade, algo que se pressupõem, não ser válida para a maioria dos perpetradores nazistas, até mesmo aos executores da Solução Final. Imprimir uma irracionalidade nos atos levados a cabo pelo nazismo, poderá ser um verdadeiro engano na busca de uma aproximação histórica, como verificou Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém, ao observar que Adolf Eichmann que na guerra fora chefe e cabeça do esquema logístico da deportação de judeus da Europa Ocidental para os campos de extermínio, em um julgamento realizado em Israel em 1960, não era nenhum nazista convicto, anti-semita furioso ou assassino louco. Eichmann não era nada mais que um burocrata, calculista e frio que tentou garantir com o maior zelo a sua ascensão social tanto em termos econômicos como nos quadros da hierarquia nazista. Portanto, teria apertado parafusos ou comandado as deportações para a morte, assim como, qualquer outra tarefa que lhe fosse solicitado8.
Outra concepção difundida, de Freiderich Meinecke( Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen(1946) - A catástrofe alemã: recolhas e contemplações ), é a de que o nazismo enquanto fenômeno político, pode ser analisado sob a perspectiva de um desvio da história, ou seja, um desvio inesperado da história evolutiva da Europa que teria retornado aos trilhos somente em 1945 . O fato é que uma análise não atenta dessas explicações, além de apontarem Adolf Hitler como um “gênio demoníaco” ou louco e assassino, colocam esses cruéis eventos fora da alçada da Historia.
Desta maneira, seria muito mais fácil acreditar que Eichmann era um monstro anti-semita, do que perceber que o genocídio fosse o resultado de uma minoria de fanáticos anti-semitas combinados com uma maioria de burocratas oportunistas e banais, em um contexto de difusão de uma política declaradamente racista e eugenista; que desumanizava os judeus e outros povos considerados inferiores enviando-os para campos de extermínio.
Assim, com a permanência de tais explicações confortadoras, às vezes o nazismo e o fascismo igualmente persistem em um limbo de interpretação, como se ambos os fenômenos se situassem em uma zona fora da história ou fora da compreensão humana. Como salienta o historiador Roney Cytrynowicz, a própria designação que se dá ao termo holocausto, ou shoá, em hebraico, para falar do genocídio de judeus ocorridos no nazismo indica uma espécie de recusa em lidar com o genocídio enquanto fenômeno histórico, e dar-lhe uma conotação religiosa, uma explicação última de um grande sacrifício em nome de algo superior 9.
Tais permanências desse forte senso-comum que entendem o genocídio de judeus – plano sistemático de extermínio decidido e executado por um Estado Moderno, dado como prioritário em meio à guerra e mesmo diante da derrota – e o justificam sob a idéia de que tudo isso só seria possível, por causa de uma doença moral que constituíam os sistemas políticos do fascismo e do nazismo, uma espécie de vírus contagiante ou embriaguez coletiva que se disseminara pela Alemanha e pela Itália. Segundo Benedetto Croce, o fascismo foi “uma perda de consciência, uma depressão cívica e uma embriaguez produzidas pela guerra”10 .
A Lista de Schindler é um filme realizado no seio de Hollywood, portanto, orientado para se tornar comercial. E precisamente por este sistema e para este sistema, é que o filme recorre as estereotipagem de seus personagens, para simplificar (sintetizar) a realidade e “facilitar” a identificação do espectador com as vítimas judias. Spielberg deixa claro desde o princípio o seu posicionamento diante dos fatos: todo alemão está louco e é um fardo cruel para os judeus. O único personagem que se afasta dessa tendencia da loucura dos alemães, é o próprio protagonista, que veste a insignia da swastika em seu paletó, mas tem alma, compaixão e sentimentos.
A partir desses contrastes entre opressores e oprimidos, verificamos que Spielberg esquece-se de um elemento fundamental e que torna mais profundo o horror da violência e o lado perverso da guerra: o fato de que todos os seus participantes são humanos, o que de maneira impossível de remediar o torna um filme altamente comercial de ficção. Portanto, a cada minuto de filme passado transparece cada vez mais o efeito “made in hollywood” e a distancia-se cada vez mais de sua intenção inicial em mostrar os fatos de um modo mais ou menos real e comprometido com a verdade, sem deixar-se levar demais pelos caminhos da comercialidade.
Através de um modo de “happy end”, Spielberg insere elementos comerciais não necessários para o seu intento inicial e abre a questão para a problemática deste trabalho, difundindo uma moral que diz algo como: não importa o que sofras, não importa o que te ocorra, se resistir, se aguentar, será um autentico sobrevivente e saíra desta catástrofe, se lembrarmos da cena final do filme em que os judeus salvos e suas família depositam pedras no tumulo de Oskar por cada vida salva.
Esta ideia de esperança, de que todos os personagens que sofreram e sobreviveram ao final do filme é verdadeiramente justa com o trauma na memória daqueles que sobreviveram ao Holocausto ? E com aqueles que não sobreviveram ? O holocausto é um problema dos judeus ou da humanidade ?
Um outro fator que torna de forma irremediável a Lista de Schindler uma ficção, é o discurso ao final do filme de que se havia realmente uma forma de sobreviver a guerra, esta é a esperança e o espirito de sobrevivência que Spielberg coloca apenas como um fator fortuito ou causal11. Assim, em um primeiro discurso, o diretor de ET segue as pistas de um texto comprometido e verdadeiro, porém, pouco a pouco vai delineando e reforçando o seu discurso com uma série de elementos propagandísticos que servem para posicionar ao espectador com a sua particular perspectiva dos fatos deparando-nos com um autor subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, que “tenta” dar uma versão autentica dos fatos. As principais marcas dessas manipulações do espectador é a própria exclusão da representação de outros coletivos perseguidos pelo regime nazista que não o povo judeu, a generalização da loucura dos alemães como se não fossem seres humanos à semelhança dos judeus.
Uma das cenas mais controvérsias e que poderia considerar-se como o autentico discurso do filme, é a terrível cena de um grupos de mulheres nuas num salão fechado a espera de um “banho” no campo de extermínio de Auschwitz, onde aparecem umas duchas que sabemos (e elas também sabiam) com total segurança de que era uma câmara de gás onde todos estavam sendo assassinados. O que acontece depois de cinco minutos de tensão e angústia do espectador e daquelas mulheres, ocorre que o que parecia ser uma câmara de gás eram verdadeiras duchas de água para o banho, o que em certa medida viola o caráter do filme de comprometimento com a realidade, ou seja, ao invés de sair água sairia o zyklon-b. Este talvez seja a cena que compromete mais comercialmente o filme, o tom de uma espécie de erotismo na imagem das vítimas femininas do holocausto. Spielberg, não pôde permitir a morte de forma tão cruel de seus personagens principais, os judeus Schindler, que merecem viver no final, nos encontramos assim, com uma distorção da realidade histórica vivida pelos sobreviventes e pelas vítimas do holocausto em detrimento da construção de um discurso de ficção e ou drama comercial.
Em contraposição a essa postura de esperança ou sorte defendida pelo discurso do filme, um sobrevivente de Auschwitz, Primo Levi, em seus relatos e análises acerca da Shoah, diria que a imensa maioria dos que sobreviveram era formada pelos “privilegiados”, prisioneiros que obtiveram alguma espécie de privilégio “submetendo-se à autoridade do campo” (2004, p.15). Estes, diz Levi, não testemunharam sua história ou – quando o fizeram – deixaram relatos lacunosos, distorcidos ou totalmente falsos. Todorov aponta também a existência de mecanismos autoritários de controle da memória utilizados pelos nazistas como: a intimidação da população com o mote do segredo (proibição de informar-se ou difundir informações), o uso de eufemismos (símbolos linguísticos atenuantes do choque perceptivo dos atos de extermínios que seriam praticados) e a mentira como instrumento de modulação do conhecimento (mitificação da história)12.
O uso das técnicas de um documentário para acentuar o dramatismo da história e convencimento do espectador através de um jogo para com os seus sentimentos, constitui de forma persuasiva a argumentação do filme. Em resumo, pouco importa a verdade da história ou a justiça para com a memória dos sobreviventes e vítimas, desde que os se salvem os personagens após três horas de dor e sofrimento. Portanto, a postura de persuasão utilizada pelo filme sobre os âmbitos racionais e afetivos do espectador, é justamente a problemática antirrealista de um filme que inicialmente pretendia dar uma “versão autentica dos fatos”, sendo assim, o diretor conta com uma espécie de ingenuidade do espectador presumindo que os mesmos não estão preparados para ver todo o horror causado pelo genocídio judeu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Assim como os espectadores não podem ver um grupo de mulheres morrerem sufocadas com um gás letal eles também não podem ver um alemão cujo semblante não demonstre qualquer coisa que não seja loucura e ódio.
O sucesso de títulos exemplares apropriados ao entretenimento das multidões sobre o holocausto como A Lista de Schindler, A vida e bela(1997) e O menino de pijama listrado(2008) faz uma referência para o fenômeno apontado por Finkelstein(2001) conhecido como “americanização do Holocausto” ou “Indústria do Holocausto”. A relação problemática e paradoxal do filme de Spielberg se dá justamente na tratativa realizada com os conteúdos testemunhais utilizados, tanto para o filme, como para um documentário dirigido por ele Sobreviventes do Holocausto(1996) e o projeto de arquivamento da memória e testemunhos dos sobreviventes, motivo pelo qual, Spielberg doou o material para a University of Southern California. Em 1997, o diretor Claude Lanzmann faria duras críticas ao projeto memorialístico spielberguiano em um jornal argentino
Há uma sorte de inflação da memória, […] além disso ocupam-se dos sobreviventes e os sobreviventes estão muito contentes de poder contar sua história pessoal. Não s e esqueça de que os sobreviventes da “Shoah” são sobreviventes muito especiais. Não se pode quase chamá-los de sobreviventes. Vivem da morte. E não testemunham por si mesmos, senão pelos mortos. São os porta-vozes dos mortos. Há gente ali que trabalhou até o último grau do processo de destruição e poderia ter sido assassinada e sobreviveu por uma combinação de sorte, milagre, coragem ou o dedo de Deus. “Shoah” não é um filme sobre sobreviventes. Estas pessoas em “Shoah” jamais dizem “eu”, nunca contam sua história pessoal, nunca dizem como escaparam. Elas não queriam contá-lo e eu não queria perguntar-lhes sobre isso. Não me interessava, porque “Shoah” é um filme sobre a morte, sobre a radicalidade da morte, e não um filme de aventuras sobre uma fuga (1997 apud CANGI, 2003, p. 160).
Assim, Aguilar(2001) verificará em a Lista de Schindler alguns equívocos e excessos provados por Spielberg, ou seja, a construção de uma narrativa que conecta de forma simplista a mensagem pró-judaica com a luta contra o racismo norte-americano. O holocausto e a sua zona cinzenta na história não são compatíveis com a concepção spielberguiana do testemunho de seus personagens-vítimas, embora esse passado omitido das memórias e dos testemunhos, fruto daquela terrível zona cinzenta, será um elemento de suma importância na formação de uma empatia para com os personagens do drama, assim, eis o problema para com a verdade histórica.
História e Memória do Holocausto: as narrativas do trauma em A Lista de Schindler.
O debate em torno da relação entre a historiografia e a memória suscita muitas dúvidas e defesas de diferentes posições, sobretudo, quando se caracterizou tamanha catástrofe histórica como foi os genocídios causados pelos perpetradores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Superar a divisão rígida entre as duas modalidades de relacionamento com o passado é um dos grandes desafios que os historiadores veem enfrentando na busca da compreensão da História da Shoah. As investidas dos negacionistas e outros historiadores em estabelecer uma normalização do passado impõem a necessidade de se existir uma ética da representação, situação do qual, o testemunho ocupa um papel privilegiado.
O filosofo francês Jean-François Lyotard afirma que “representar ´Auschwitz´em imagens e palavras, é uma maneira de esquecer isso”13 se referindo à impossibilidade de traduzir a barbárie com gestos, palavras ou moldes artísticos, sem que houvesse uma perda decisiva de significação. Lyotard não está em defesa de uma política do esquecimento ou da não-representação, ele suscita o problema da exposição da injustiça causada pela barbárie e a sua tranposição à representação linguística de determinado objeto. Mesmo diante da “irrepresentabilidade” do mal absoluto, como se referia Adorno14, lembrar é preciso para evitar que as condições que motivaram a prática da barbárie permaneçam ativas no tempo e no espaço.
A experiência das vivências individuais de uma vítima assassinada pelos nazistas ou a trajetória de vida de um sobrevivente do Holocausto, certamente, vão além da alegoria. Não há diversão ou espetáculo de entretenimento para aqueles que perderam a inocência, mas apenas o lamento sobre a tragédia15 e o silêncio de lembranças traumáticas tão profundas quanto inarticuláveis. Os “restos mortais” de um passado de opressão, como salientou Maria Luiza Tucci Carneiro(2010), portam-se como testemunhos diretos desta verdade, permitindo ao expectador da história uma vivência sensitiva, ainda que distante, semelhante à experimentada pela vítima da injustiça. A revelação e a apresentação dos vestígios/testemunhos são dores de forças mobilizadoras que transformam, doravante, o “observador de hoje” em testemunha ou mesmo cúmplice da violência cometida injustamente no passado.
“A noção de testemunha primária normalmente é aplicada ao sobrevivente. Por outro lado, muitos autores aplicam noções derivadas dos estudos das obras dessas testemunhas primárias aos textos de ´testemunhas secundárias´ - uma noção que pertence mais à tradição da história oral e não ao uso jurídico do conceito de testemunha.”16
As dificuldades de representação tem a ver com o pêndulo entre trauma e narrativa, a passagem da compulsão de repetição da lembrança traumática para o trabalho de luto efetuado pela narrativa. Nesse caminho, Dominick Lacapra(2008), faz uma importante distinção entre trauma e narrativa, que nos permite contextualizar uma dimensão traumática da experiência individual e coletiva relacionada a episódios históricos como genocídios e guerras. O trauma remeteria para a compulsão de repetição de uma lembrança congelada como eterno presente e a narrativa remete para o trabalho de luto ao separar passado e presente, que permite a vítima da violência elaborar, simbolizar e narrar seu sofrimento, violência e perdas, libertando-se do peso da lembrança e habilitando o sujeito para a continuação de uma vida normal.
LaCapra ainda faz uma outra consideração para a recente virada dos historiadores para a memória no âmbito da cultura, que tem sido o interesse pelos lieux de mémoire (lugares da memória), nos dizeres de Pierre Nora, assim como concorda Claude Lanzmann que chama de non-lieux de mémoire (o que LaCapra denomina os lugares do trauma). O ponto aqui, é o lugar onde geralmente se localiza o trauma e se estende para aquelas memórias que ainda antes não estavam afetadas.
A racionalização desse mal-estar (luto) e a necessidade dele, aparece na fala dos participantes do Historikerstreit (debate de historiadores), notavelmente em Ernst Nolte e os seus defensores, os chamados revisionistas alemães17. De fato, no pós-guerra alemão, o milagre econômico serviu de pretexto para a difusão do passado, quando ainda não era claro o tenebroso custo para as vítimas do Holocausto que acompanhou a atividade econômica das glórias perdidas do Hitlerzeit (tempo de Hitler). Tais glórias aparecem um pouco mais adocicadas, em materiais midiáticos posteriores como no filme biográfico de Joachim Fest sobre Hitler(assim como em seu livro de 1973, Hitler: Eine Biographie) com um foco excessivo no Hitler pré-holocausto, anos antes da sua obsessão ser alcançada nos termos de uma “grandeza negativa” ou Hans-Jürgen Syberbergs que impôs profundos equívocos em Hitler – Ein film aus Deutschland of 1977 (distribuído nos EUA como “Our Hitler”).
Assim como os lapsos de memória causados pelo trauma estão conjugados com a tendência compulsiva de repetir, reviver, ser tomado, pelos ações traumáticas sofridas no passado, que são mais ou menos controles e procedimentos artísticos ou incontroladas experiências existenciais de alucinação, flashbacks, sonhos, e novas traumatizações desencadeados por incidentes que nos remetem ao passado.
A iniciativa de Spielberg é uma importante indicação de que o testemunho recentemente se tornou uma prevalente e importante forma da não-ficção que engloba o problema da inter-relação entre fato e fantasia. E tais depoimentos – tipicamente baseados na memória – veio a se tornar um modo privilegiado de acesso ao passado e as ocorrências traumáticas. O depoimento testemunhado tipicamente é feito de maneira tardia, depois da passagem de muitos anos, de promover uma revisitação a uma experiência vivida e transmitida através da linguagem e dos gestos. Sendo assim, tem sido grande a preocupação com os depoimentos e testemunhos, porque elas evidenciam alguns “lugares” deslocados ou equiparados à própria história em si. Ainda que esta equalização seja enganosa, a testemunha é uma crucial fonte para a história, e é mais que apenas uma fonte. Ela coloca desafios especiais para a história. Ela é baseada na questão em como os historiadores e outros analistas se tornam uma segunda testemunha, onde se desdobra uma relação de transferência e que deve trabalhar com uma posição sobre o assunto aceitável com todo o respeito às testemunhas e os seus depoimentos. A transferência aqui mencionada implica na tendência a se tornar afetado emocionalmente para com a vítima ou o seu depoimento, assumindo uma inclinação afetiva alheia ao trabalho do historiador18.
Um fator básico que contribui para a intensidade do recente interesse nos testemunhos é a idade avançada dos sobreviventes e a sensação de que o tempo é curto antes que a memória que sobreviveu das vítimas do holocausto se tornem coisas do passado. Um fator que impulsiona igualmente essa busca foram criadas pelos negacionistas e pelos “revisionistas” que atacaram a validade da memória e negam ou amenizam as abominações do Hitlerzeit, lugar entre os quais, naturalmente, está a Shoah. Figuras como Robert Faurisson (identificado como um revisionista francês) estão dispostos a ir ao extremo, como negar os excessos do passado, que para eles pode culminar numa hipérbole neopositivista que demanda absoluta verificação para estabelecer a mera existência de câmaras de gás ou para igualar o exagerado relativismo e construtivismo que afirma em ultima estância uma ficção, natural subjetiva de todas as narrativas e interpretações do tema. Uma das forças por trás da virada para a memória, é a ameaça colocada pelos negacionistas e as suas reivindicações e desejos por demandas que satisfazem, o fato de que quanto mais se estende o tempo, os sobreviventes e a sua memória primária dos eventos que vivenciaram ultrapassam o fato histórico.
LaCapra faz um breve enquadramento de como os historiadores trataram o problema da memória e a sua relação com a história. Alguns tenderam à patologização de certos processos históricos (síndrome da memória social); Dentre esses historiadores que reveleram uma das dimensões cruciais, são os pensamentos provocantes de Charles Maier (A Surfeit of Memory ? Reflections on History, Melancholy and Denial – A indigestão da memória? Reflexões na História, Melancolia e Negação)19.
Outra tendência da memória tende a ficcionalização se não a mitologização da ideia de uma história que é insensível aos lapsos da memória e a razão desses lapsos. É muito prevalente recentemente a oposição entre história e memória, alguns valorizam a história sobre a memória e outros a memória sobre a história. Esta segunda tendência, não é apenas evidente em um tipo de aproximação com a história como os gêneros de televisão como docudrama e do cinema. A oposição entre Pierre Nora e Maier sobre história e memória. Para Nora, história e memória “longe de serem sinônimas, são opostas”.
Nas evocações equivocadas da memória (o do passado que nós perdemos), Pierre Nora vê algo essencial que se perdeu – se não a perda imaginária – a grande oposição entre história e memória . Para LaCapra, é óbvio que memória e história não são idênticas, mas também não são opostas à história. Esta relação pode variar, mas não em função de uma oposição categórica entre “nós” e “eles”. A memória é uma fonte crucial para a história e tem complicadas relações com fontes documentais.
"(...)Ela pode incluir até mesmo falsificações, repressões, disjunções e negações; a memória pode contudo ser informativa – não em termos de uma representação precisa do objeto, mas nos termos de uma ansiedade escondida de recepção e assimilação por ambos os participantes nos eventos e aqueles que nasceram depois.(...)
Por exemplo, a disseminada ideia entre as vítimas e outros envolvidos, de que os nazistas faziam sabão é empiricamente falsa, no entanto, possuí um valor figurativo em ambos os termos de uma real tendência nazista de reduzir os judeus à objetos e nos termos de uma inversão do ritual nazista e do anseio higiênico da contaminação pelos judeus"20
Existe uma distinção entre memória primária e memória secundária. A memória primária é aquela da pessoa que viveu inteiramente certos eventos e se lembra deles de certa maneira. Esta memória invariavelmente envolve certos tipos de de alterações no “realmente vivido” que vem através de formas como a negação, repressão, supressão e evasão.
A memória secundária é o resultado do trabalho crítico com a memória primária suscitadas por uma pessoa que viveu esta experiência relevante e transmitida por analista, observador, ou uma testemunha que se torna o historiador. O participante e o observador-participante encontram-se no limite da memória secundária, que de forma de concedido acordo em certas coisas irão constituir esta aproximação com a memória. O debate se dá em torno da relevância desta memória para a vida política e social no presente e no futuro. Em todo o caso, a elaboração de uma aproximação, com base no teste crítico da memória primária e outras evidências é tarefa específica do historiador, que além de escutar atentamente se torna uma segunda testemunha do depoimento das testemunhas. Dessa maneira, a memória secundária é também uma tentativa dos historiadores de transmitir a aqueles que não viveram tais experiências ou eventos em questão. Tal procedimento, não se trata alterar ou diminuir a natureza do evento traumático, mas de requerer interpretação e uma estimação do que na memória é outra coisa do que se não fato.
Discutindo o significado ético do testemunho do Holocausto, Giorgio Agamben(2000), nos lembra que no latim havia dois sentidos para testemunha: o de testis – espectador – e o de superstes – sobrevivente. Há um pequeno hiato existente suscitado por Agamben no que se refere à importância dos dilemas da testemunha de catástrofes históricas, ele chama de “aporia de Auschwitz”: nos campos de extermínio a realidade excede aos elementos fatuais invocados para a representação, assim, além do horror vivido, as testemunhas carregam a responsabilidade coletiva de representar todas as vítimas ausentes do trauma coletivo. Como salienta Susan Suleiman (2008), o testemunho é sempre individual enquanto o trauma histórico é coletivo, portanto, cria-se na testemunha o problema de uma ética da memória e na narrativa um elemento essencial para se estabelecer uma ponte com os “outros”, portanto, a memória do trauma é sempre uma busca de compromisso entre o trabalho de memória individual e outro construído pela sociedade.
Dori Laub(1995) em um importante ensaio sobre o testemunho da Shoah, é um dos defensores da inarrabilidade do evento e que o Holocausto foi “um evento sem testemunha”(Laub, 1995:65). Primo Levi também se alinha à posição de Laub, uma vez que, segundo a sua afirmação, aqueles que testemunharam são justamente aqueles que conseguiram se manter a uma certa distancia do evento, não foram totalmente levados por eles, como ocorreu com os que morreram ou aqueles que eram denominados musulmänner (muçulmano) dentro do jargão do Lager se referindo aqueles que perderam totalmente a capacidade de resistir, ou seja, aqueles que sobreviveram por algum motivo como foi o caso de Levi que era um químico, puderam testemunhar, no entanto, testemunharam uma versão atenuada dos fatos.
A relação entre história e memória enquanto duas possibilidades de relação com o passado, pressupõem a existência de determinada política da história na construção de uma imagem do passado. Portanto, não existe uma história neutra, nela a memória, segundo SELIGMANN-SILVA, existe enquanto uma categoria abertamente mais afetiva de relacionamento com o passado, intervém e determina em boa parte os seus caminhos. O historiador alemão Daniel Johah Goldhagen, cujo pai foi um sobrevivente da Shoah, escreveu em seus livros Forschung auch als Antwort auf ganz persönliche Fragen (Pesquisa também como resposta a questões bem pessoais) e Os executores voluntários de Hitler: alemães comuns e o holocausto foram extremamente combatidos em especial na Alemanha, pois, segundo a crítica, enquanto judeu filho de um sobrevivente, Goldhagen não seria portador de uma “imparcialidade” - que a história é o campo da neutralidade, da objetividade, do “universal” e não de “respostas a questões bem pessoais”, provocando uma espécie de negação entre a interação dialética entre a memória e a história.
Um outro historiador também importante para esse debate foi Pierre Vidal-Naquet que dedicou o seu livro Les assassins de la mémoire à memória da sua mãe assassinada em Auschwitz em 1944 e diz logo na primeira página do seu livro: “Eu recuso evidentemente a ideia que um historiador judeu deveria se abster de tratar de certos temas”(Vidal-Naquet, 1987, 12). Dessa maneira, ele aponta para a direção de que não existe um sujeito desinteressado no seu tema. Em um debate entre Saul Friedländer e Martin Broszat (Frieländer e Broszat, 1990, p.110), Friedländer ao contrário de Broszat, em relação “a questão da historicização” isso significa, de fato, que, para nós, uma espécie de distanciamento puramente cientifico do passado, ou seja, uma passagem do reino do conhecimento fortemente influenciado pela memória pessoal, para aquele de uma espécie de história “imparcial”, permanece, na minha opinião, uma ilusão epistemológica e psicológica” (1990, p.129). Friedländer entende a existência de um conflito entre as diversas memórias coletivas – como a dos alemães, dos poloneses e dos judeus – que justamente alimentam a escritura da história. A partir desse pensamento, é que Vidal-Naquet afirma que a tensão entre história e memória não pode ser dissolvida, mas sim integrada na “história do crime nazista”(1987, p.8).
A historiografia sobre Auschwitz e a sua meta-reflexão indicando a impossibilidade de se segmentar radicalmente os campos da história e da memória são também questionamentos passiveis de ser analisados no filme de Steven Spielberg A Lista de Schindler. Esse paradigma historiográfico que desencadeou um processo de revisão crítica de alguns dogmas centrais da historiografia positivista do século XIX, processos esses iniciados por Nietzsche, Bergson, Proust, Joyce, Maurice Halbwachs e Walter Benjamin. Todos esses autores se identificam por uma espécie de resistência ao modelo temporal do historicismo que é linear e, via de regra, ascendente. Neles, é preservado o elemento fragmentário da temporalidade, típico do registro pessoal ou coletivo da memória. Para Halbswachs, detido pela Gestapo e executado em Buchenwald em 1945, autor do mais célebre conceito de memória coletiva21, a história entra em cena com o fim da tradição, no “momento em que se apaga ou se decompõem a memória social”. Walter Benjamin, que se suicidou na Espanha temendo ser capturado pela Gestapo em 1940, incorporou no seu procedimento historiográfico, o princípio proustiano da “mémoire involuntaire” que se deixa guiar não pela continuidade do tempo abstrato vazio, mas sim pelas associações dominadas pelo acaso.
Tanto em Benjamin com em Halbwachs o preceito historicista da restituição e representação total do passado deve ser posto de lado. Segundo eles, graças ao conceito de memória, eles trabalham não no campo da representação, mas sim da apresentação enquanto construção a partir do presente. A lembrança, afirma Halbwachs, “é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onda a imagem de outrora manifestou-se bem alterada”(1990, p.71). Já Benjamin, afirma que o historiador materialista – ou seja, anti-historicista - deve visar a construção de uma montagem: de uma collage de escombros e fragmentos de um passado que só existe na sua configuração presente de destroço (apud SELIGMANN-SILVA: Benjamin, 1982, p.574).
Todas essas questões são de crucial importância para entendermos a mensagem do filme A Lista de Schindler, que como observamos, cuja pretensão do diretor foi de dar um tom de mote rankeano positivista, wie es eigenlich gewesen (como efetivamente ocorreu), de um evento como referenciou Claude Lanzmann, diretor do filme Shoah, e realizar “uma obra histórica ali onde apenas a memória, uma memória de hoje, é chamada para testemunhar”(Vidal-Naquet, 1996, p. 263)22.
Portanto, frente a esses desafios da historiografia, sobretudo relativa a Shoah, que o filme A Lista de Schindler traz uma tentativa de se lidar com o passado: toda escritura do passado é uma reinscrição penosa e nunca total. Dominick LaCapra comparou o ideal de “domínio do passado” - compartilhado até mesmo por Broszat – ao fantasma do domínio total do passado, numa historiografia mais influenciada pela psicnálise que une o trabalho da memória – que para ele é mais emocional – ao da história, que é feita a partir de termos mais críticos e que visaria um work through, ou seja, uma perlaboração do trauma, que com este filme, pode ser trabalhado como uma fonte documental.
Como filme hollywoodiano, entretém e sensibiliza e possui um discurso, como vimos, voltados para “americanização do Holocausto” e invasão do imaginário mundial como um filme e um projeto de coleta de testemunhos.
A Lista de Schindler fixou de maneira determinante a memória da Shoah para as presentes e futuras gerações; laureou a carreira de Spielberg com a bendição de seis Oscars, entre eles a de melhor diretor e melhor película; gerou uma moda paralela ao testemunho, o Holocausto e suas consequências moralizantes (adaptadas a muitos diferentes contextos e sempre em busca do consenso das massas), na realidade muito parecida aquela que desatou por extraterrestres, tubarões ou dinossauros(AGUILAR, 2001. p.34)
Dessa maneira, resumindo o tema do presente trabalho, como nos ensinou Adorno(1991, p.65): “dessas vítimas prepara-se algo, obras de arte, lançadas à antropofagia do mundo que as matou”, uma vez que, “pelo princípio de estilização estética e até pela prece solene de coro, o destino imponderável se apresenta como se tivesse tido algum sentido algum dia; é sublimado, e tira-se um pouco do seu horror”, o que temos por fim é que a vida profanada das vítimas representadas no filme “é ainda por cima arrastada sobre o carro triunfal dos estatísticos unidos, e o próprio passado não está mais a salvo do presente, que o condena mais uma vez ao esquecimento no instante em que o recorda”(ADORNO, 1993, p.39).
Bibliografia utilizada como referência:
ADORNO, Theodor W.. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
______. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: Ática, 1993.
AGAMBEN, Giorgio. Quel che resta di Aschwitz-L´Archivio e il testimone, Turim, Bollati Boringhieri, 2007.
AGUILAR, Arturo Lozano. Steven Spielberg: La lista de Schindler - estudio crítico. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001.
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
_______. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Diagrama e Texto, 1983.
BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften, vol. V: Das Passagen-Werk, org por R. Tiedemann e H.Schweppenhäuser, Frankfurt: Suhrkamp, 1982.
BLOCH, Marc. A Estranha Derrota. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2011.
CAPELATO, Maria Helena. História e Cinema. São Paulo: Alameda, 2007
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Holocausto: Crime contra a Humanidade. São Paulo: Ática, 2005.
CHALK, Frank; JONASSOHN, Kurt. Historia y Sociologia del Genocídio. Análisis y Estudio de Casos. Buenos Aires, Prometo Libros, 2010.
COGGIOLA, Osvaldo(org.). A Segunda Guerra Mundial: um balanço histórico. São Paulo: Xamã, 1995.
______. História e Crise Contemporânea. São Paulo:Pulsar, 1994.
CYTRYNOWICZ, Roney. Memória da Barbárie: A História do Genocídio dos Judeus na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: EDUSP, 1990.
DUKAS, Helen; HOFFMANN, Banesh(Orgs.). O Lado Humano. Rápidas Visões Colhidas em seus Arquivos, Trad. Lucy de Lima Coimbra, Brasília, EUnB, 1979.
FINKELSTEIN, Norman G. A indústria do Holocausto: reflexões sobre a exploração do sofrimento dos judeus. Rio de Janeiro: Record, 2001.
FRIEDLÄNDER, Saul. Probing the limits of representation. Nazism and the final solution. Cambridge, Massachutssetts/London, 1992.
GILBERT, Martin. O Holocausto: História dos Judeus na Europa na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: HUCITEC, 2010.
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JOHNSON, Paul. História dos Judeus. São Paulo: Imago, 1995.
KEEGAN, John. The Second World War. New York: Penguin Books, 1989.
LACAPRA, Dominick. Representar al Holocausto: Historia, teoria, trauma. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.
_____. History and Memory After Auschwitz. London: Cornell University Press, 1998.
_____. Writting History, Writing Trauma. London: The Johns Hopkins University Press, 2001
LAUB, Dori . Truth and testimony: The process and the struggle. In Cathy Caruth (Ed.), Trauma: Explorations in memory . Baltimore: John Hopkins University Press, 1995.
LEVI, Primo. É isto Um Homem ?. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
______. A Trégua. Trad. Marco Lucchesi, São Paulo: Planeta de Agostini, 2004.
______. Os Afogados e os Sobreviventes. Trad. Luiz Sergio Henriques. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
MAYER, Arno. La “Solution Finale” dans l´Histoire. Paris: La Découverte, 1990.
MANDEL, Ernest. O significado da Segunda Guerra mundial: São Paulo, Ática, 1989
______. O papel do indivíduo na História: o caso da II Guerra Mundial. São Paulo: 17/18, 1989.
MILWARD, Alan. La Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Barcelona:Crítica, 1986.
NOLTE, Ernst. La Guerra Civil Europea 1917-1945: Nacionalsocialismo y bolchevismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
NORA, Pierre. Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, Les lieux de la mémoire, Paris: gallimard,1984.
NOVAES, Túlio Chaves. "Lições do Mal: dos campos de extermínio aos espaços da memória". Tese de doutorado sob orientação de CANEIRO, Maria Luiza Tucci. Faculdade de Direito São Francisco/USP.
ROSEMAN, Mark. Os Nazistas e a Solução Final - A conspiração de Wansee: do Assassinato em Massa ao Genocídio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. O Local da Diferença: Ensaios sobre a Memória, Arte, Literatura e Tradução. São Paulo: Editora 34, 2005.
_______. História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Unicamp, 2003.
SELIGMANN-SILVA, Márcio; SCHWEIDSON, Edelyn (orgs.) Memórias e Cinzas: Vozes do Silêncio. São Paulo: Perspectiva, 2009.
SULEIMAN, Susan. Crises of Memory and the Second World War. Cambridge: Havard University Press
TAYLOR, A. J. P. The origins of the second world war. New York: Simon & Schuster, 2005.
VIDAL-NAQUET, Pierre. Os Assassínos da Memória - "Um Eichmann de papel e outros Ensaios sobre o Revisionismo, Papirus, 1988.
Filmografia
A LISTA de Schindler. Direção: Steven Spielberg. EUA: Universal Pictures, Amblin Entertainment, 1993. (195 min).
SOBREVIVENTES do Holocausto. Direção Allan Holzman. Produção: Steven Spielberg, June Beallor, James Moll e Jacoba Atlas. Eua: Home Entertainment, 1996. (70 min).
NOTAS
1Esse movimento parte da uma releitura mais atenta de Walter Benjamin, Maurice Halbswachs, Saul Friedlânder, Yosef Yerushalmi, Vidal-Naquet, Shoshana Felman, Dominick LaCapra, Pierre Nora entre outros, que defendem um trabalho conjunto entre historiografia e memória.
2Levando em consideração as exigências estéticas, morais e éticas desse autores, uma crítica é feito ao material coletado pela Fundação e reunião do corpus documental para o filme, que ao contrário de sua própria intenção original, acabou por comprometer o testemunho enquanto possibilidade histórica, bem como a memória do próprio evento que se pretende preservar, maculando seu conteúdo de verdade para se utilizar uma expressão adorniana.
3Sánchez-Escalonilla, Antonio. Steven Spielberg, entre Ulises y Peter Pan. Madrid, CIE Dossat, 1994 p.305.
Capelato, Maria Helena; Morettin, Eduardo; Napolitano, Marcos; Saliba, Elias Thomé (orgs.) História e Cinema. São Paulo: Alameda, 2007.
5Huici Módenes, Adrián. Cine, literatura y propaganda. De Los santos inocentes a El día de la bestia. Sevilla, Ediciones Alfar, 1999, p.27-29
6Este choque é bastante evidente no próprio final do filme, em que misturada à alegria da liberdade do povo judeu causado pelo fim da guerra e derrota da Alemanha nazista, Oskar Schindler pronuncia seu discurso de despedida para seus empregados: “ A guerra acabou. Amanha começará uma busca pelos perpetradores de seus familiares... Sou um membro do Partido Nazista, sou fabricante de armas para o regime, me aproveitei da escravidão, sou um criminoso. A meia-noite vocês serão livres e eu um perseguido... tenho que fugir”
7Oskar Schindler perdeu a sua liberdade ao final da guerra, os judeus sofreram as perdas de toda a sua família e de sua terra, Goeth que ganhara muito dinheiro com os judeus schindler fora executado por crimes contra a humanidade em um tribunal soviético e a Alemanha perdeu a guerra.
8ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Diagrama e Texto, 1983.
9Roney Cytrynowicz – Loucura coletiva ou desvio da história: as dificuldades de interpretar o nazismo. in Osvaldo Coggiola(org.). A Segunda Guerra Mundial: um balanço histórico. São Paulo: Xamã, 1995.
10Idem.
11Um exemplo desse discurso é a cena em que Amon se coloca a executar um trabalhador da fábrica de Schindler, mas não o consegue, pois a sua pistola e a de seus soldados estavam emperradas e não disparavam. Portanto, este judeu não se salvou graças a ele mesmo ou algum tipo de esforço, ele sobreviveu graças a sorte que teve no momento. A ideia geral de que só sobrevivem as pessoas que lutam, tem sido bastante criticadas. A norma melodramática hollywoodiana presente no filme reforça um sentimento de que os sobreviventes não foram melhores que as vítimas que o azar ceifou as suas vidas: ou seja, nos identificamos com os personagens protagonistas e estes sobrevivem e são os personagens não centrais os que morrem, todos aqueles judeus que não foram negociados por Schindler morrem.
12TODOROV, Tzvetan. Memória do Mal, Tentação do Bem, tradução: Joana Angélica D´Ávila Melo, 2002, pp.170-171
13LYOTARD, Jean-François. Heidegger e os “Judeus”; tradução Jorge Seixas de Souza, Portugal: Instituto Piaget, 1999, p.50.
14Apud SELIGMANN-SILVA, Márcio. A Atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno; Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira; 2009, p.105. Segundo Adorno, “escrever um poema após Auschwitz é um ato de barbárie, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas”.
15O significativo valor histórico atribuído por Tzvetan Todorov ao termo “tragédia”: “(...)o termo designa propriamente, lembremos, não apenas sofrimento e aflição, não apenas a ausência do bem; esta pode também insinuar-se no relato de vitimização. Não, a tragédia reside na impossibilidade do bem: qualquer que seja o desenlace escolhido, ele gera lágrimas e morte. A causa dos Aliados é incontestavelmente superior a dos nazistas alemães ou militares japoneses, a guerra contra eles é justa e necessária; no entanto, provoca uma infelicidade que não se pode descartar com simples aceno sob o pretexto de que essa infelicidade é ´a dos outros´”. op. Cit, pp. 135-136.
16IMBASCIATI, Antonio. Afeto e Representação. Tradução: Neide Luzia de Rezende; São Paulo: Editora 34, 1998. p.14. Ver também a “insignia do amor-mundi” de Hannah Arendt. ARENDT, Hannah. Homens em Tempos Sombrios, São Paulo, Companhia das Letras, 1987.
17A retificação revisionista dos números diminui a tragédia ? Sim e não. De acordo com o locus do enunciado revisionista, cada judeu morto a menos computado reforça a relativização da tragédia judaíca, o que pode ser entendido como uma facilitação para encaixar o Holocausto na diluição geral da destruição humana causada durante a Segunda Guerra Mundial, como defendeu Vidal-NAQUET contra os negadores do holocausto.
18LACAPRA, Dominick. History and Memory After Auschwitz. London: Cornell University Press, 1998, pp. 1-62. Ver também: LACAPRA, Dominick. Writting History, Writing Trauma. London: The Johns Hopkins University Press, 2001.
19Maier rapidamente remove o ponto da questão de seu título, argumentando enfaticamente, que há uma indigestão ou excesso da memória no passado recente, especialmente entre os intelectuais. “É aparente que em alguns” anos a fascinação dos intelectuais com a memória continue sem diminuição, não apenas com os tempos passados que queremos relembrar – embora a recuperação histórica também se torne uma indústria cultural – mas o ato de relembrar por si, como um fenômeno psíquico “. Maier tende a patologizar a memória (indigestão), que pode muitas vezes ser deturpada por um excesso quantitativo de sinais, o que LaCapra chama atenção para a necessidade de se analisar a especificidade qualitativa ou o tipo desta memória para serem utilizados como objeto.
LACAPRA; op. Cit. p. 13.
20Op. cit. p. 19.
21HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo, Vértice, 1990, p. 90.
22Para Vidal-Naquet, “o trabalho histórico exige uma 'retificação sem fim', não é menos certo que a ficção, sobretudo quando é deliberada, e a verdade histórica constituem dois extremos que não se encontram”(1996, p.261). Por outro lado, e esse é um ponto fundamental concernente a análise fílmica realizada do filme, deve-se tomar cuidado para não se confundir 'ficção' e 'mentira', uma vez que o caráter da ficção se coloca justamente na desestruturação da própria possibilidade de se falar da verdade e do seu oposto senão também estar embutido com os valores e aspirações que constituem o presente.